PT

Natural do Porto, mas a viver em Lisboa, Francisca Cortesão é cantora, compositora e multi-instrumentista entre muitas outras coisas que incluem a escrita e as traduções literárias. Afinal, a música e a escrita estão interligadas e a sua prática artística ensinou-a a conciliar tudo de forma exímia. Aproveitámos a sua participação no Cultura em Expansão para conversarmos com ela.
Agenda Porto: Como é que a música entrou na tua vida?
Francisca Cortesão: Não sei como é que entrou porque acho que sempre esteve presente, ou seja, vivi numa casa onde sempre existiu música e onde todos aprenderam a tocar piano, ou quem não aprendeu tem a facilidade de pegar numa guitarra e tocar uns acordes. Embora não seja uma família de músicos, são pessoas que ouvem muita música e que têm essa sensibilidade. Comecei a ter aulas de música quando andava na escola primária, depois desisti e voltei mais tarde para as aulas de piano, com dez anos. Informalmente, aprendi a tocar piano com a minha tia-avó Irene, que gostava de ensinar e tinha muita paciência.
AP: O piano foi o teu primeiro instrumento musical. Quando é que sentiste vontade de explorar outros?
FC: Foi em campos de férias que peguei numa guitarra, e fiquei fascinada. E, depois, embora gostasse muito de tocar piano, isso exigia uma disciplina que eu não tinha na altura e então comecei a explorar mais a guitarra. Acabei por desistir desse estudo mais formal e comecei a dedicar-me às bandas. Atualmente, toco sobretudo guitarra, mas também toco baixo, teclado (quando é preciso) e continuo a saber tocar piano, mas não sou pianista; nunca estudei o suficiente para isso, mas [o que aprendi] bastou para conseguir tocar e servir as minhas próprias canções, e quando é preciso tocar teclados, toco. Portanto, tenho algum à-vontade. Contudo acho que o meu instrumento de eleição é a guitarra e a voz.

© Rui Meireles
AP: Quais foram as tuas influências? Houve alguma banda que te inspirou no teu percurso?
FC: Desde que tive uma guitarra em casa, comecei a tirar músicas de ouvido; isto é, depois de aprender quatro ou cinco acordes nos campos de férias e com a ajuda de alguns livros de música para aprender a tocar, comecei a sentir-me à-vontade para acompanhar algumas músicas com a guitarra. Desde os meus dez anos, passei muitas horas da minha vida a ouvir CDs e rádio e a tentar perceber como é que as músicas se tocavam para acompanhá-las com a guitarra. Na altura, a minha primeira ‘pancada’ era pelos Nirvana.

© Vera Marmelo
AP: Sempre soubeste o que querias fazer ou a vida foi-te moldando num sentido?
FC: Eu faço muitas coisas... Sempre soube que gostava de música e levava-a muito a sério. Lembro-me de, com doze ou treze anos, não ir de férias com os meus pais porque dizia que tinha de ensaiar. Era um assunto sério, sempre foi. Mas, ao mesmo tempo, achava que ia seguir ciências e isso não aconteceu porque sempre tive muito mais facilidade com as línguas (sou tradutora, também) do que com a matemática. É algo que me é inato e que não obedece a grande esforço da minha parte. Portanto, algures ali na passagem para o décimo ano achei... Não vou contrariar a natureza. Há coisas que são fáceis e instintivas e outras não. Então, fui pelo que me era mais natural para grande desilusão de uma parte da família. Também foi uma desilusão eu ter desistido do piano. Ambas eram coisas que eu era capaz de fazer, mas que davam mais trabalho.
AP: Durante o teu percurso musical, houve algum momento que te marcou enquanto artista e que o consigas destacar?
FC: Talvez o momento em que fui viver para Lisboa porque arranjamos um contrato de gravação com uma grande editora para a nossa banda (Casino). Eu era muito nova e aquilo tudo foi muito entusiasmante no início, chegámos a editar um disco (que não teve muita visibilidade), mas as coisas acabaram por não correr assim tão bem e eu tive um choque de realidade com a indústria musical. As expectativas estavam muito altas e depois acabou por ser uma desilusão e a banda não sobreviveu. Foi marcante a esse nível, passou-me pela cabeça desistir, mas também foi marcante na reconstrução que surgiu a partir daí. Passei a moderar as expectativas e a trabalhar de uma forma mais orgânica, com amigos, com pequenas editoras, tocar em sítios pequenos e isso foi um renascimento, passei a trabalhar numa escala muito mais humana, mais sustentável e, portanto, foi um momento marcante.
AP: Falando dos teus projetos, Minta & The Brook Trout (2006) é o teu projeto principal, não é? Continua a ser o teu foco?
FC: É um entre muitos. Minta, sou eu, digamos assim, já há mais de dez anos. Editei o primeiro EP ainda sem banda, em 2008, e é um dos projetos mais constantes. Neste momento, estamos a gravar um disco, mas é um projeto que está encarrilado e, ao mesmo tempo, não é propriamente a atividade mais produtiva da minha vida. Não há pressa, gravamos discos de tempos a tempos, sem pressão. Fazemos uns concertos, eu adoro!, mas não é uma banda de música comercial, e, portanto, não chega a grandes públicos e por isso não é sustentável, fazemos por gosto. Atualmente, a maior parte do meu tempo é ocupada com projetos novos.
AP: Que projetos são esses?
FC: No final do ano passado, eu e o Afonso Cabral, uma das pessoas que faz este workshop comigo (Mais Alto! Oficina de escrita de canções de protesto, dirigida a crianças, no âmbito do Cultura em Expansão), abrimos um estúdio em Lisboa. Esta tem sido a nossa prioridade, o projeto a que dedico a maior parte do tempo. É um estúdio de gravação, uma editora, uma agência e chama-se Louva a Deus. Porque era uma igreja baptista; tem crucifixos na porta, e nós não destruímos nada, construímos por cima.
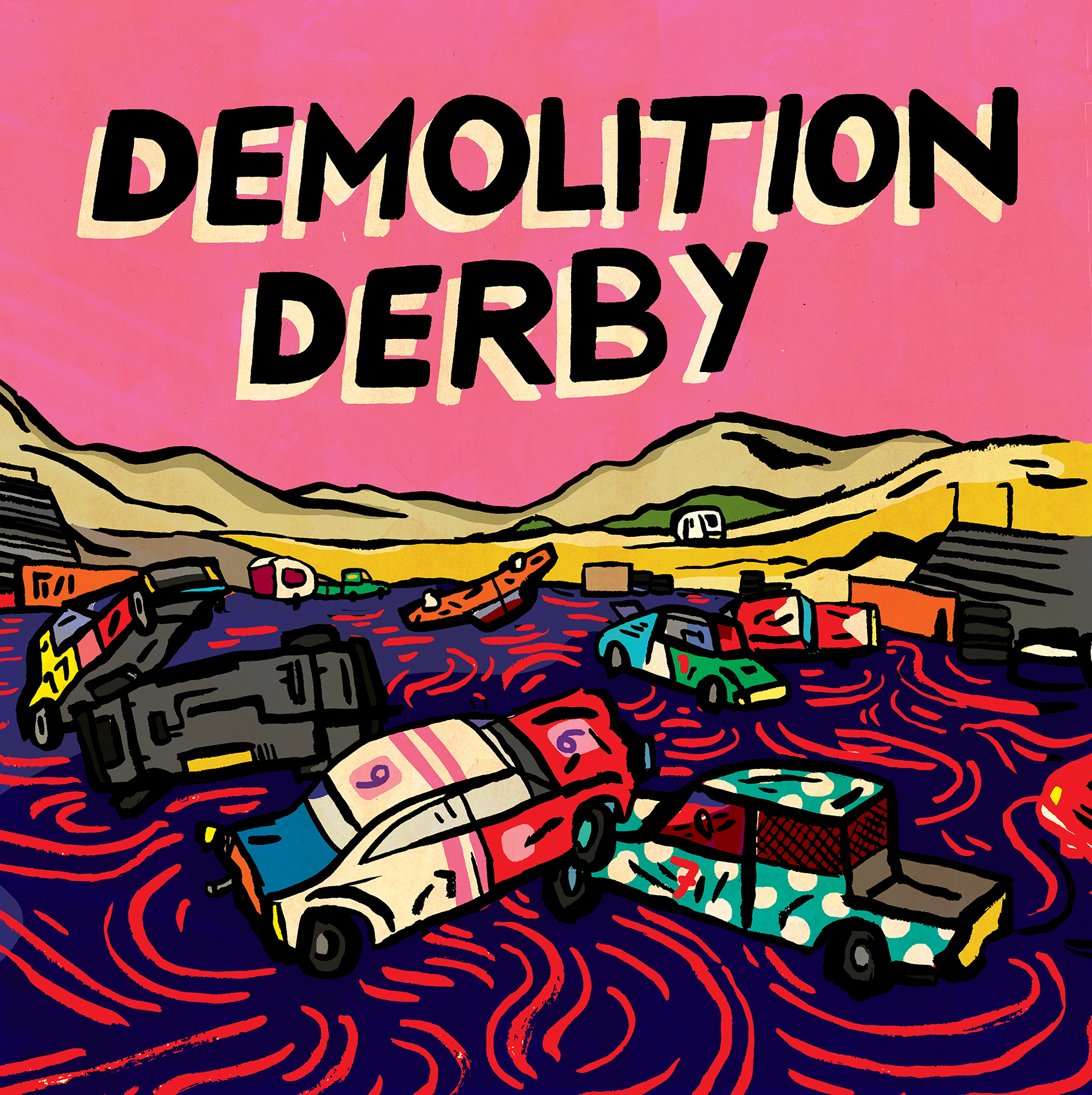
Capa do disco mais recente de Minta & The Brook Trout, Demolition Derby, de 2021. Ilustração de Bernardo P. Carvalho
AP: O Mão Verde e o Mais Alto! são dois projetos pensados para o público infantojuvenil. Como surgiram?
FC: O Mão Verde é um projeto da Capicua e do Pedro Geraldes, direcionado para as questões do ambiente e da ecologia. O primeiro disco, foram eles os que fizeram, e mais tarde quiseram fazer um espetáculo com mais músicos e convidaram-me a mim. O segundo disco já foi criado pela Capicua, pelo Pedro Geraldes, pelo António Serginho e por mim; compusemos os quatro as músicas. Os concertos supostamente são direcionados a um público infantil, mas como a própria Ana define, “é música para crianças que não se querem infantis”. E este é um ponto em comum entre os dois projetos: Mão Verde e Mais Alto!. A diferença? Mão Verde são canções originais, Mais Alto! não tem músicas próprias, mas um repertório quase infinito de música interventiva de todo o mundo que nós adaptamos e fazemos as nossas versões de maneira muito livre. Este último é um concerto comentado, nós tocamos as músicas (Inês Sousa no teclado, o Afonso Cabral no baixo e o Sérgio Nascimento na bateria) e a Isabel Minhós Martins (Editora do Planeta Tangerina) ou o João Vaz Silva comentam e explicam. Podem ser músicas dos anos 70, do Zé Mário Branco, do Zeca Afonso, como também podem ser músicas mais recentes. Há sempre uma contextualização, porque não podemos partir do princípio de que uma criança que nasceu em 2010 sabe quem é o Sérgio Godinho, os Titãs ou o Xutos e Pontapés — ou melhor esses, curiosamente, [as crianças] sabem! (risos).

Primeiras gravações para o novo disco, a 6 de março de 2024. Francisca Cortesão (guitarra elétrica), Mariana Ricardo (baixo), Tomás Sousa (bateria), Margarida Campelo (teclados), Afonso Cabral (guitarra elétrica). © Vera Marmelo
AP: A música, a escrita e a edição e tradução de textos... há sempre disponibilidade mental e criativa?
FC: Há pouco tempo, comecei a fazer um curso online de escrita de canções na School of Song, de Portland (EUA), e apercebi-me de que, ainda melhor do que as aulas, são os trabalhos de casa. Quando me dizem que, até quinta-feira, tenho de escrever uma canção, que tem de conter uma palavra, que ritmicamente tem de ser assim, eu escrevo. Preciso de deadlines, mas fora isso vou sempre apontando ideias no telefone e depois posso ir atrás dessas ideias, respigar e escrever coisas.
AP: Tens algum tema, neste momento, escrito no teu telefone para desenvolveres mais tarde?
FC: Uma coisa muito estúpida (risos). Sabes que as canções da minha banda têm uns micro temas muito... particulares. E há uma coisa que me anda a incomodar que é quando toca o telefone, eu atendo a achar que há uma pessoa do lado de lá e há uma daquelas vozes a dizer “Olá! Queremos saber como foi a sua interação com o nosso serviço”. Pronto, essa sensação de atender o telefone e achar que vou falar com um ser humano e é uma máquina.
AP: A propósito de “máquinas”, o que pensas da inteligência artificial?
FC: Dá-me vertigens. Vou ter de aprender a conviver com ela. Na verdade, já convivo muitas vezes sem saber que estou a conviver com ela, porque convivemos todos. Sou mais apologista do trabalho manual, as coisas demoram tempo a fazer e eu respeito e gosto desse tempo, mais lento.
AP: Mas achas que poderias vir a utilizar a inteligência artificial no teu processo
criativo? Consegues ver potencialidade no ChatGPT, por exemplo?
FC: Talvez. Na verdade, sempre usei coisas que são equivalentes, como o dicionário, para compor. A inteligência artificial também é um manancial de conhecimento à nossa disposição, eu percebo isso. Já pedi ao chatgpt para me escrever uma canção em inglês e ele escreveu, tinha todo o ar de uma canção folk, daquelas que eu gosto e escrevo, mas não tinha…
AP: ... alma? Não era teu?
FC: Não era de ninguém! Aquilo não tinha alma nenhuma! Se calhar, um dia vai ter.
AP: Qual é o papel da música na sociedade atual? Os artistas devem ter uma responsabilidade social, política ou pedagógica?
FC: Acredito que podem ter, mas não é obrigatório. É perfeitamente legítimo uma pessoa escrever canções mais pessoais, como é o meu caso. Nem toda a música tem de ser de intervenção, nem todos os artistas têm de ter um papel ativo. Mas é muito importante haver artistas interventivos e pessoas informadas a falar. Atualmente, todos têm opiniões, mas nem todos têm opiniões informadas, e é importante que haja essas pessoas como a Capicua, entre outros.
AP: Se pudesses dar um conselho aos novos artistas, terias feito alguma coisa diferente no teu percurso?
Não teria desistido do piano, teria continuado as aulas e teria sido escusado aprender mais tarde o que poderia ter aprendido naquela altura em que tinha um cérebro mais esponjoso. O problema é que eu tinha um enorme poder de argumentação e dizia que se aprendesse mais piano ia estragar a minha criatividade – Mentira! Ou seja, acho que ninguém fica a cantar com menos personalidade por ter aulas de canto, nem fica com menos criatividade por aprender harmonia ou música. E eu tinha essas ideias na cabeça, não sei bem porquê. Não sei onde fui buscar isso: Ai! Isto vai-me estragar a criatividade. — Não vai nada! Aprender é muito útil!
por Maria Bastos
Partilhar
FB
X
WA
LINK
Relacionados


